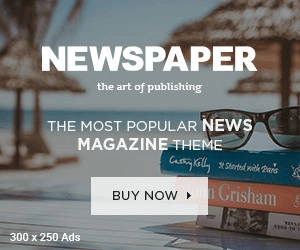“Ênfase, que o argumento é fraco.”
A anedota dessa anotação à mão, em lápis vermelho, feita à margem de um trecho do discurso proferido por um embaixador, veio-me logo à mente enquanto ouvia o pronunciamento do presidente dos EUA na Assembleia-Geral da ONU.
“Antigamente era o resfriamento global… depois disseram que era o aquecimento global… agora chamam de mudança climática, porque assim não há como errar”, seguido de “É a maior fraude já imposta ao mundo”.
E continua: “Limpo. Eu chamo de carvão limpo e belo“; “Estamos acabando com o que chamam falsamente de ‘renováveis’. Aliás, são uma piada. São caras e ineficientes”.
O grau de fabulação dessas afirmações faz suspeitar de um sentimento grande de insegurança, por parte de quem as profere. Estaria ele se dando conta de que o mundo atravessa mudança estrutural e que a dependência global do petróleo pode estar atingindo seu pico? E isso não por escassez, mas por transformações tecnológicas e econômicas profundas.
Em artigo recente, o cientista político Ian Bremmer, fundador da consultoria Eurasia, enumera uma série de fatos em apoio a essa tese:
– China como motor da mudança: o crescimento da demanda chinesa por petróleo, que manteve o mercado mundial aquecido —chegando a dobrar entre 2010 e 2020—, está se esgotando. A diminuição da população em 25 milhões de pessoas desde a pandemia, a desaceleração do crescimento econômico e a rapidez da transição energética são os principais fatores explicativos.
– Revolução energética chinesa: a participação de carros elétricos saltou de 5% para 50% sobre as vendas de veículos novos em apenas cinco anos. Também o aquecimento e a indústria pesada estão sendo eletrificados, mediante a expansão em escala histórica da energia renovável —270 gigawatts em seis meses, mais que o dobro do resto do mundo.
– Limitações de outros países: mesmo uma Índia em crescimento não será capaz de compensar a redução da demanda chinesa. O consumo indiano cresce de forma desigual, e sua expansão econômica se apoia mais em serviços do que em setores intensivos em petróleo. Além disso, o país inicia sua própria transição para veículos elétricos e energia renovável. Quanto aos países em desenvolvimento, o crescimento das exportações chinesas de painéis solares, baterias, veículos elétricos e tecnologia elétrica em geral permite que avancem sem passar necessariamente pela fase poluente que o mundo industrializado atravessou.
– Consequências: a demanda chinesa por petróleo provavelmente atingiu seu pico e pode entrar em declínio estrutural, seguindo o que já ocorre na Europa e nos EUA, onde a intensidade do uso de petróleo em energia, transporte e aquecimento vem caindo. Do ponto de vista geopolítico, a China assume a liderança na transição energética, enquanto os EUA, ao reforçarem seu status de “petroestado”, arriscam perder competividade econômica e influência estratégica.
A própria Opep sinaliza perceber essa tendência estrutural declinante do consumo de petróleo. Em um mercado estável, ou com crescimento assegurado, seria de esperar a continuidade do comportamento histórico de administrar conservadoramente a oferta do produto, de modo a evitar uma queda nos preços. O que se observa, porém, é justamente o contrário: a elevação da produção e da oferta de petróleo, de modo a recuperar o mercado perdido para os países fora do cartel, como os EUA. Com a perspectiva de queda da demanda, torna-se mais importante defender a participação de mercado do que a margem de lucro.
A propósito, cabe aos que pretendem iniciar agora projetos de exploração de petróleo, cujo produto só atingirá o mercado em escala comercial em 12 a 15 anos, observar atentamente essa tendência. O risco é grande de que então haja superoferta e preços muito deprimidos.
Coerente, o discurso presidencial encerra o “capítulo climático” com uma oferta: “Estamos prontos a fornecer a qualquer país suprimentos abundantes e acessíveis de energia. E a maioria de vocês precisa”. Refere-se, naturalmente, à energia fóssil.
Assim a nação mais poderosa do mundo, sob influência do lobby fóssil, ignora a ciência climática, sabota internamente as energias renováveis, desestimula sua expansão globalmente e usa tarifas para impingir gás e petróleo a parceiros comerciais.
A história tem sempre algo a nos ensinar.
Desde a Antiguidade, a China detinha praticamente o monopólio da seda, que exportava para todo o mundo através das “rotas da seda”. Com a queda de Constantinopla e o advento da navegação no século 16, esse comércio passou a ser feito pelo mar. Com o passar dos anos, a Inglaterra assumiu papel preponderante no consumo e na distribuição dos produtos chineses; não apenas a seda mas também o chá, a porcelana e a pólvora.
Ocorre que os chineses só aceitavam pagamento em prata (chegaram a ser destino de um terço de toda a prata do mundo) e, sendo uma economia fechada, não importavam nenhum produto estrangeiro, acumulando assim um grande superávit comercial, o que causava enorme desconforto aos ingleses. Soa familiar?
Os ingleses passaram então a fornecer para os chineses, via contrabando, ópio produzido na Índia, cujo vício espalhou-se rapidamente, provocando uma grande crise de saúde pública, com graves reflexos sociais. Em 1839 o governo chinês reagiu, proibiu o ópio e destruiu carregamentos britânicos da mercadoria.
A Inglaterra entrou em guerra com a China “em defesa do livre-comércio”; a chamada Guerra do Ópio. Com uma Marinha muito mais moderna, derrotou facilmente os chineses e os forçou, em 1842, ao Tratado de Nanquim, pelo qual a China cedeu Hong Kong ao Reino Unido e pagou pesada indenização, entre outras concessões. Foi o início do que os chineses chamam “século da humilhação”. Catorze anos depois, em 1856, os chineses se insurgiram contra a continuidade do comércio de ópio e foram novamente esmagados, em uma guerra que durou quatro anos. Ao fim desta, o Tratado de Pequim ampliou os privilégios ocidentais e legalizou o comércio de ópio. Ainda seriam necessários 90 anos, até a revolução de 1949, para que a China conseguisse enfim se libertar completamente do jugo do ópio.
Os meios mudam, tornam-se talvez mais sutis, menos explícitos. Mas não será essa a primeira vez em que se tenta impingir a uma parte mais fraca o consumo de um produto que lhe é nocivo.