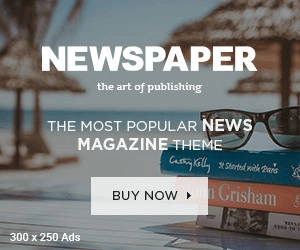Após o assassinato do ativista conservador Charlie Kirk, o presidente Donald Trump e integrantes de seu governo têm discutido a punição de pessoas que fizeram declarações consideradas insensíveis, provocativas ou odiosas sobre o caso. Segundo o republicano, ao menos parte desses comentários constitui “discurso de ódio”.
“Nós definitivamente vamos mirar em você, perseguir você, se você estiver atacando alguém com discurso de ódio”, disse a procuradora-geral Pam Bondi num podcast na segunda-feira (15).
Após reação negativa, ela pareceu rever o comentário ao escrever nas redes, na terça (16), que “discurso de ódio que ultrapassa o limite para ameaças de violência não é protegido pela Primeira Emenda [da Constituição americana]”. “É um crime”.
Todd Blanche, o procurador-geral adjunto, sugeriu em entrevista à CNN, na terça, que pessoas protestando enquanto Trump jantava em um restaurante de Washington poderiam ter cometido crime.
Trump, por sua vez, disse também na terça que, ao lidar com um processo por difamação, a ABC lhe “pagou US$ 16 milhões por uma forma de discurso de ódio”.
Leia a seguir o que a Primeira Emenda diz sobre os esforços do governo para suprimir o que considera discurso de ódio.
O que é discurso de ódio?
A definição usual, com base em declarações das Nações Unidas e do Conselho da Europa, inclui insultos raciais, étnicos e religiosos; apelos à intolerância racial ou religiosa; e declarações falsas sobre grupos raciais ou religiosos, sendo a negação do Holocausto o exemplo mais comum.
A Primeira Emenda permite que o governo puna o discurso de ódio?
A Suprema Corte disse muito claramente que não, e não apenas no contexto de processos criminais. Em decisão de 2017, o juiz Samuel Alito estabeleceu a visão consolidada, dizendo que o governo não tinha o direito de “impedir discursos que expressam ideias ofensivas”.
“Essa ideia”, escreveu Alito, “atinge o coração da Primeira Emenda”.
Citando um clássico voto divergente de 1929 do juiz Oliver Wendell Holmes Jr., Alito acrescentou que “o maior orgulho da jurisprudência sobre liberdade de expressão é a proteção à liberdade de expressar ‘o pensamento que odiamos'”.
Os tribunais podem proibir discursos ofensivos que causem angústia aos ouvintes?
Aqui, novamente, a Suprema Corte disse que não. Os tribunais não impediram uma marcha planejada pelo Partido Nazista Americano em Skokie, no Illinois, em 1977, embora fosse profundamente angustiante para os muitos sobreviventes do Holocausto que viviam lá.
Em 2011, por 8 votos a 1, a Suprema Corte decidiu que a Primeira Emenda protegia a Igreja Batista Westboro, que protestava em funerais militares com cartazes contendo mensagens como “A América está Condenada” e “Graças a Deus pelos Soldados Mortos”.
“O discurso é poderoso”, escreveu o então presidente do Supremo, John Roberts. “Pode incitar pessoas à ação, levá-las às lágrimas tanto de alegria quanto de tristeza e —como fez aqui— infligir grande dor.”
Mas sob a Primeira Emenda, ele continuou, “não podemos reagir a essa dor punindo o orador”. Em vez disso, o compromisso nacional com a liberdade de expressão, disse ele, exigia a proteção de “até mesmo discursos dolorosos sobre questões públicas para garantir que não sufoquemos o debate público”.
A abordagem americana ao discurso de ódio é diferenciada?
Sim.
“Em grande parte do mundo desenvolvido, usa-se epítetos raciais por sua conta e risco legal; exibe-se insígnias nazistas e outros símbolos de ódio étnico com risco legal significativo; e incentiva-se a discriminação contra minorias religiosas sob ameaça de multa ou de prisão”, escreveu Frederick Schauer, então professor da Escola de Governo John F. Kennedy da Universidade de Harvard, em um ensaio de 2005 chamado “A Excepcional Primeira Emenda”.
“Mas nos Estados Unidos“, escreveu Schauer, que morreu no ano passado, “todo esse tipo de discurso permanece constitucionalmente protegido”.
E quanto a incitar violência?
A Primeira Emenda não protege incitação ao crime, mas a Suprema Corte definiu esse termo de forma bastante restrita, exigindo uma probabilidade de violência iminente.
A mera defesa da violência, do terrorismo ou da derrubada do governo não é suficiente; as palavras devem ter a intenção e a probabilidade de produzir violência ou ilegalidade de forma imediata.
Em 1969, no caso conhecido como Brandenburg v. Ohio, a Suprema Corte anulou, por unanimidade, a condenação de um líder de um grupo da Ku Klux Klan sob um estatuto de Ohio que proibia a defesa do terrorismo.
O líder, Clarence Brandenburg, havia instado seus seguidores em um comício a “mandar os judeus de volta para Israel” e a “enterrar pessoas negras”, usando um insulto racial. Ele também disse que eles deveriam considerar vingança contra políticos e juízes que não simpatizavam com pessoas brancas.
Apenas membros da Ku Klux Klan e jornalistas estavam presentes. Como as palavras de Brandenburg não chegaram a pedir violência imediata em um ambiente em que tal violência era provável, a Suprema Corte decidiu que ele não poderia ser processado por incitação ao crime.
Trump foi beneficiário dessa decisão. Quando ele estava concorrendo à Presidência em 2016, apontou para alguns manifestantes em um de seus comícios e disse: “Tirem eles daqui”. Os manifestantes, que disseram ter sido brutalmente agredidos, processaram-no por incitar um tumulto.
Trump venceu o processo. Um tribunal federal de apelações, referindo-se a Brandenburg, decidiu que sua exortação estava protegida pela Primeira Emenda.
“Aos ouvidos de alguns apoiadores, as palavras de Trump podem ter tido uma tendência a provocar uma resposta física, caso um manifestante perturbador se recusasse a sair”, escreveu o juiz David W. McKeague, “mas elas não defendiam especificamente tal resposta”.
E quanto a ameaças contra pessoas específicas?
A Suprema Corte reconheceu uma exceção à Primeira Emenda para “ameaças verdadeiras” de violência. Mas aqui, também, definiu a categoria de forma restrita.
Em 2023, a Suprema Corte impôs limites às leis estaduais que tornavam crime fazer ameaças pela internet direcionadas a pessoas, dizendo que os promotores devem provar que os oradores agiram, no mínimo, de forma imprudente.
“O estado deve mostrar que o réu desconsiderou conscientemente um risco substancial de que suas comunicações seriam vistas como ameaçadoras de violência”, escreveu a juíza Elena Kagan na decisão.
Kagan reconheceu que “ameaças verdadeiras” não eram protegidas pela Primeira Emenda. Mas ela disse que o risco de inibir o discurso protegido justificava impor um ônus adicional aos promotores.
“O medo do orador de confundir se uma declaração é uma ameaça; seu medo de que o sistema jurídico erre nesse julgamento; seu medo, em qualquer caso, de incorrer em custos legais —tudo isso pode levá-lo a engolir palavras que, na verdade, não são ameaças verdadeiras”, escreveu ela.